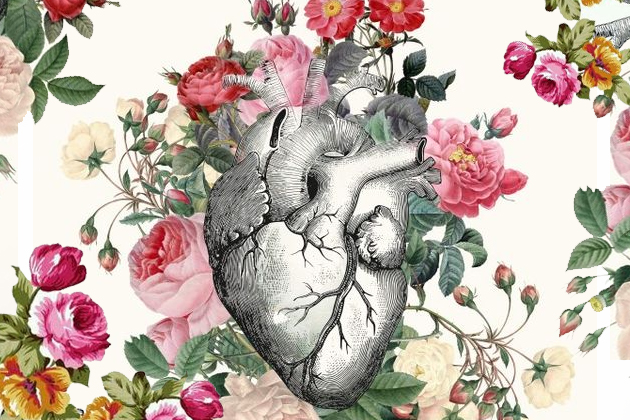
Boris Cyrulnik, psiquiatra, especialista em Etologia Humana, debruçou-se sobre o tema da resiliência como poucos em nosso tempo. Faz parte da grande amplificação que ele trouxe ao tema a constatação de que toda resiliência necessita de um intenso processo de ressignificação da vida que, no entanto, não se pode fazer sozinho.
Isso aparentemente lança um conflito entre a ideia de que toda a individuação é pessoal e intransferível, por um lado, mas que, por outro lado, não somos capazes de fato de nos reconstruir sem um certo trabalho coletivo de tapeçaria: cada um traz um fio e o meu fio encontra seu lugar dentro do tecido, definindo a forma que me cabe trazer ao mundo.
No entanto, se olharmos com mais cuidado, esse conflito de fato não existe. A ciência quântica do século XX demonstrou claramente que há uma rede oculta de conexões em todo o mundo vivo, nos mais diversos níveis, do biológico ao social, passando certamente pelo psíquico.
A contribuição de C. G. Jung acerca da interpenetração existente entre a psique individual, familiar, social e coletiva é valiosa para entendermos que se nosso caminho, dores e escolhas sempre são apenas nossos, é também verdade que nós mesmos nunca somos apenas nossos.
Nisso é que podemos aproximar Jung de Cyrulnik, na compreensão da importância dos vínculos. Jung mostrou claramente os vínculos psíquicos, os vínculos entre imagens e imaginários que as manifestações do inconsciente revelam, nas imagens simbólicas, arquétipos e motivos da mitologia universal presentes nos sonhos, nos devaneios, nas expressões artísticas. Cyrulnik, por sua vez, fala dos vínculos interpessoais, mostrando claramente a importância dos relatos e das narrativas criadas em conjunto na construção de uma nova realidade de sentido. Quando partilhamos sentidos, atribuímos sentido de fato às vivências; isso faz com que ele volte em vários de seus livros à questão das narrativas partilhadas e dos vínculos afetivos como elementos centrais nos processos de resiliência.
Para mim, um dos motivos que mais representam esse processo de que ambos tratam, dos entrelaçamentos entre o indivíduo e a rede, é a simbologia que envolve o coração. O coração com suas veias a bombear o alimento que percorre o corpo pelos fios que tecem a rede de todo o sistema circulatório, alimentando órgãos e tecidos. Não à toa o coração sempre foi o órgão do corpo que o imaginário popular atribui à sede do amor, lembrando que o primeiro Eros na Mitologia Grega, presente nos mitos de criação, era o Grande Eros, representante do movimento de união, vínculo. Amor é, enfim, conexão e rede. Amor é também a grande busca, e o sentimento de que ele falta é a grande queixa a lotar os consultórios (e as igrejas…).
Falo aqui dessa situação comum que começa com a crença de que falta um outro para, enfim, às vezes depois de algumas décadas, perceber-se que o que falta não é um outro, mas sim aprendermos dentro de nós mesmos o caminho de acesso à rede da amorosidade cósmica. E isso se ensaia mais com os amigos do que propriamente no contexto dos encontros românticos.
Vinícius de Morais tinha absoluta razão ao dizer que seria capaz de viver sem todos seus amores, referindo-se às muitas mulheres que teve, mas não sobreviveria sem seus amigos. Os amigos são os amores do “coração que ama as histórias”, que ama com-versar; são testemunhas de nossa vida, como nossos cúmplices, e carregam nosso coração em suas mãos em alguns momentos, nas noites mais escuras da alma.
As histórias que criamos com os amigos constituem uma forma de o coração atribuir sentido à nossa vida − ao nosso presente e ao nosso passado −, e, com isso, tornar suportável o vazio do futuro.
Como reconhecemos os amigos? Nosso coração fica alegre. A alegria, diferentemente da felicidade (que é sempre tão idealizada e vítima de tantas projeções e enganos), é espontânea e incontrolável. Ela levanta-se em fogaréu quando quer; e o corpo ri, gargalha, estremece na presença de algo grande. A alegria é despretensiosa e, nisso está sua grandeza. Ela é Graça, e não merecimento. Quando o coração se alegra, enche-se de sentido: sente que vive.
Quando o coração dói pode ser pela falta de alegria ou pelo transbordamento da vida. E muitas vezes, quando o coração dói apenas está pedindo novas histórias, novos caminhos, novos entrelaçamentos. Atire a primeira pedra quem nunca teve o coração partido. Jung disse certa vez:
E onde estão os grandes sábios da vida e do mundo, que não apenas falam do sentido, mas também o possuem? Não se pode imaginar nenhum sistema e nenhuma verdade que forneçam aquilo de que o enfermo precisa para a vida, ou seja, fé, esperança, amor e auto-reconhecimento. Essas quatro maiores conquistas do esforço humano são também bênçãos, que não se pode ensinar nem aprender, dar nem tomar, reter nem obter, pois elas estão conectadas a uma condição irracional, avessa à vontade humana, ou seja, à vivência. As vivências nunca podem ser “fabricadas”[1].
O coração também não pode ser fabricado, mesmo que em seu lugar haja uma prótese funcional de alta tecnologia. Ainda assim, não será um coração até ter amado, sofrido e imaginado por meio dele. Ou até ter se partido. Um coração tem de nos carregar na vida enquanto acreditamos que o estamos carregando no peito.
Viver uma vida em meio aos fogaréus do coração, plena de amigos, é viver uma vida que faz sentido. É isso que desejo a todos nós: não importa quando nosso coração vai parar de bater, o que importa é que, enquanto ele pulse, nós brilhemos, juntos.
Referências:
Cyrulnik, B. O murmúrio dos fantasmas. S. Paulo: Martins Fontes, 2005.
Resiliência – essa inaudita capacidade de construção humana. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.
Jung, C. G. Sobre o amor. São Paulo: Ideias & Letras, 2005.
Dra. Malena Segura Contrera, analista em formação do IJEP