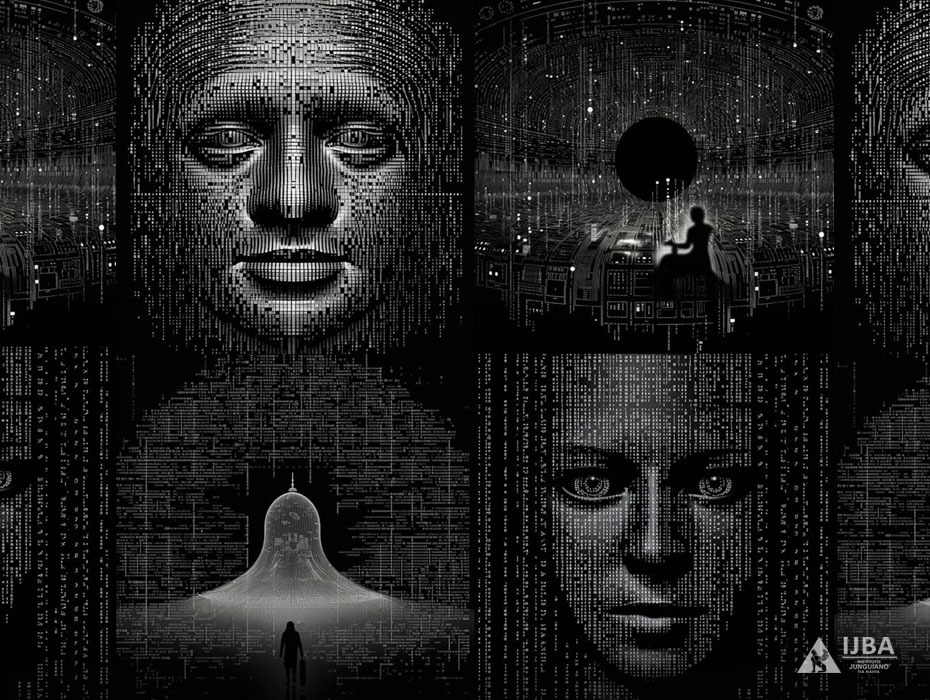
Por Márcio de Abreu
Em tempos de contestações acaloradas sobre o binarismo tradicional nas concepções de sexo e gênero, a noção junguiana de que a psique humana é constituída por princípios masculinos e femininos passou a ser considerada uma heresia. A veemência com que certos grupos passaram a repudiar essa ideia deve-se, em grande parte, ao desconhecimento acerca do significado atribuído a determinados termos na psicologia analítica. Assim, é fundamental esclarecer que, pela perspectiva junguiana, ao falarmos em “masculino” ou “feminino”, não nos referimos a características inerentes e definidoras do que significa ser homem ou mulher como categorias biológicas ou sociais, mas sim a qualidades psicológicas que, além de complementares, são comuns a todas as pessoas, independentemente de como se classifiquem quanto ao seu gênero ou sexo.
Uma forma de atenuar as tensões que permeiam esse debate — e, com isso, favorecer uma maior abertura ao tema — é deslocar o foco dos termos “masculino” e “feminino”, carregados de conotações ideológicas, para os conceitos de “animus” e “anima”. Esse deslocamento nos permite traçar uma breve genealogia que nos ajude a compreender, ainda que parcialmente, como esses conceitos estão relacionados na teoria de Jung.
Tanto animus quanto anima derivam da mesma raiz protoindo-europeia, reconstruída como ane, que significa “respirar” — não apenas como um fenômeno fisiológico involuntário, mas como a própria fonte ou princípio da vida.[1] Apesar de compartilharem uma origem comum, seus significados específicos se diferenciaram ao longo do tempo. Enquanto anima manteve uma conexão mais direta com o conceito de “alma” — ou o “sopro vital” que anima o corpo —, animus passou a estar associado a um princípio pensante, associado à consciência, ao intelecto e à vontade.[2]
No contexto das concepções fundamentais da cultura latina, bem como das tradições filosóficas e espirituais subsequentes, animus e anima podem ser relacionados ao conceito de corpus para expressar as interrelações entre as dimensões mentais, emocionais, espirituais e materiais da experiência humana. Na filosofia latina e medieval, especialmente sob a influência de autores como Cícero (106 – 43 a.C.)[3], Santo Agostinho (354 – 430)[4] e Tomás de Aquino (1225 – 1274)[5], anima, animus e corpus eram frequentemente vistos como complementares, mas distintos: o corpus, entendido como o corpo físico cuja vitalidade depende da anima, que anima a matéria, e que, por sua vez, expressa as capacidades intelectuais e volitivas associadas ao animus.
A raiz comum de animus e anima sugere a constituição de uma essência vital que imbui os corpos humanos de vida e direciona essa vida por meio da integração das dimensões racionais, espirituais e emocionais, refletindo seus influxos complementares para além das distinções sexuais. Embora esses conceitos tenham sido respectivamente reinterpretados por Jung como princípios “masculinos” e “femininos” no inconsciente, ele preservou a ideia de complementaridade ao reconhecer a psique humana como andrógina. Para Jung, a psique não possui características exclusivamente “femininas” ou “masculinas”, mas é um sistema integrado que inclui em sua totalidade os conjuntos de capacidades e forças de animus e anima. Jung não via animus e anima como características exclusivas de um sexo, mas sim como princípios arquetípicos que emergem na psique individual de maneira diferenciada.[6]
Por outro lado, essa diferenciação se baseia em processos psicossociais que moldam a identidade de gênero e a construção do eu. Ao longo da história, valores culturais influenciaram a socialização de meninos e meninas de maneiras distintas, reforçando a associação entre predisposições psicológicas e os papéis de gênero. Embora essas predisposições sejam comuns a ambos, elas passaram a ser interpretadas como características intrínsecas e exclusivas de homens e mulheres. Isso, por sua vez, influencia a forma como características inconscientes são projetadas: os homens, ao reprimirem ou negarem sua dimensão emocional e intuitiva, podem projetar sua anima em figuras femininas externas, ao passo que as mulheres, ao reprimirem ou negarem sua assertividade e racionalidade, podem projetar seu animus em figuras masculinas.
Por essa perspectiva, a associação do animus ao masculino e da anima ao feminino não é necessariamente essencialista, mas sim uma consequência de um longo processo histórico e cultural que moldou a forma como as diferenças sexuais são simbolicamente representadas. Na psicologia junguiana, esses conceitos não são fixos, mas podem ser integrados ao longo do desenvolvimento psíquico, permitindo que os indivíduos transcendam as dicotomias tradicionais e alcancem um equilíbrio entre racionalidade e intuição, atividade e passividade, estrutura e fluidez.
Por fim, essas considerações não encerram a discussão. Ainda há muito a ser explorado sobre as relações entre aspectos biológicos, psíquicos e sociais que explicam por que certas qualidades, denominadas “masculinas” e “femininas”, costumam ser simbolicamente associadas a homens e mulheres, respectivamente. No entanto, esse é um tema para outro momento.
Márcio de Abreu – Doutor em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Teoria Crítica e Estudos Culturais pela University of Nottingham e em Cultura e Sociedade pela UFBA. Bacharel em História com Habilitação em Patrimônio Cultural pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Atualmente, atua como docente no ensino superior e analista junguiano.
[1] Harper, D. Online etymology dictionary, 2024. Disponível em: https://www.etymonline.com.
[2] Rezende, A. M.; Bianchet, S. B. Dicionário do latim essencial. Belo Horizonte | São Paulo: Autêntica, 2014.
[3] Cícero, M. T. Discussões tusculanas. Uberlândia: EDUFU, 2014.
[4] Agostinho, S. A alma e sua origem, 2018. Disponível em:https://www.valde.com.br/public/fileadmin/user_upload/A-alma-e-sua-origem_-Santo-Agostinho.pdf.
[5] Aquino, S. T. Suma Teológica, 1936. Disponível em: https://alexandriacatolica.blogspot.com/search/label/S.%20Tomas%20de%20Aquino.
[6] Jung, C. G. OC 9/2 Aion: estudo sobre o simbolismo do si mesmo. Petrópolis: Vozes, 2015.
Jung, C. G. OC 6 Tipos psicológicos. Petrópolis: Vozes, 2015.
Jung, C. G. OC 9/1 Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes, 2016.